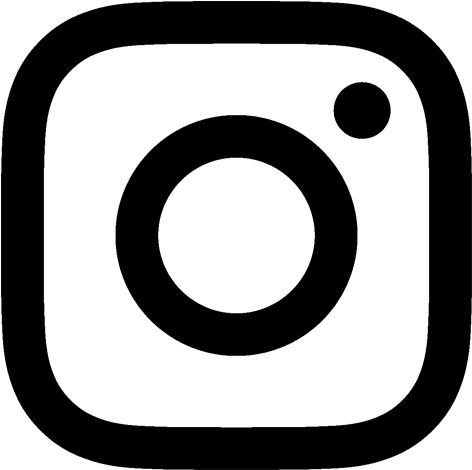A Farroupilha e o gaúcho: memórias em disputa
Jocelito Zalla
É inegável que a Farroupilha se tornou o episódio mais emblemático para a construção da imagem hoje corrente do Rio Grande do Sul – no próprio Estado sulino e no restante do Brasil. Debates acerca de suas características (e contradições) atravessaram décadas, e ainda se encontram vivos tanto na produção de historiadores universitários profissionais quanto nos discursos de agentes políticos e grupos sociais dos mais variados. A Guerra dos Farrapos foi uma manifestação de liberdade na sociedade escravista brasileira do século XIX? Como a elite pecuarista da região conciliava o infame recurso da mão de obra escrava, em suas fazendas de criação de gado e na indústria do charque e do couro, com as ambições de renovação política que, no plano das ideias, pareciam amparadas numa ainda não tão distante Revolução Francesa? Foi ela um prenúncio da vocação republicana do Brasil ou um rescaldo das independências rio-platenses, que geraram as repúblicas vizinhas da Argentina e do Uruguai? O quanto a declaração de independência do Império se ligava a uma vontade real de separação da América Portuguesa, ou foi nada menos do que um desdobramento inesperado do conflito?
Todas essas questões encontram suas respostas numa realidade histórica palpável e bem documentada, delimitada temporalmente pela eclosão da sedição, em 1835, e pelo acordo conciliatório de paz, em 1845, que reintegrou as elites e os espaços dissidentes à unidade imperial. Mesmo que, em grande parte, resolvidas, elas provocaram debates periódicos com diferentes posições que também demonstravam a necessidade de revisar seu significado, adaptá-lo a novos contextos, além de se disputar a representação legítima da guerra-símbolo, justificando demandas sociais e políticas que já não possuíam uma relação direta com o evento.
Resumindo, a Farroupilha possui uma história, mas também uma – ou muitas – memória(s). Essas narrativas configuraram um mito político, cuja gênese também é possível de ser traçada por meio de suas sucessivas apropriações. Faz parte dela, sem sombra de dúvidas, a própria escolha do episódio como emblema para o Rio Grande.
Um erro histórico com força política
Encontramos no discurso de propaganda dos próprios rebeldes a ideia de que se preparava, no sul do Império, uma Revolução. Alguns grupos radicais da elite sul-rio-grandense podem ter aderido aos ideais mais populares dos movimentos liberais europeus do mesmo período, como a República, a igualdade de direitos e a libertação dos povos. É conhecida, por exemplo, a participação de imigrantes italianos nas batalhas farrapas, como o seu também herói-símbolo Giuseppe Garibaldi e o seu grande propagandista Giuseppe Mazzini, ambos membros da internacional Sociedade Carbonária.
Chamar a sedição sulina de Revolução, no entanto, é um equívoco que se perpetua no senso comum, pois tem força política e identitária. Nos estudos históricos e cientificamente orientados, é praticamente consenso que o termo só cabe a eventos que abalam profundamente as estruturas sociais, trazendo grandes transformações econômicas, políticas e simbólicas. Apesar da inclinação republicana de parcela da elite pecuarista que liderou a guerra, sabe-se que a criação da República Rio-Grandense foi uma resposta desesperada à resistência do Império a suas demandas tributárias. O estopim da guerra foi a política de impostos sobre o charque (carne de sol) produzido na província, que deixava o concorrente platino, de maior qualidade, mais barato no mercado nacional. Mesmo o seu grande herói-símbolo e, provavelmente, o personagem mais celebrado da história política tradicional do Rio Grande do Sul, o General Bento Gonçalves da Silva, líder dos revoltosos que foi aclamado presidente da dissidência sulina, era notoriamente reconhecido como um monarquista convicto. E apesar da promessa de libertação dos negros escravizados que participavam das batalhas no lado farrapo, sabe-se que as forças rebeldes de militares-estancieiros nunca enxergaram na abolição uma causa verdadeira.
Tudo isso se verifica no pacto conciliatório que pôs fim ao conflito. O território revoltoso foi reincorporado ao Império, os principais nomes do exército farroupilha foram integrados à estrutura militar nacional e a mão de obra escrava permaneceu um expediente comum na economia sul-rio-grandense até a década de 1880, ou seja, nenhuma mudança de fato. Soma-se a isso o vergonhoso episódio do massacre de lanceiros negros em Porongos, que foram desarmados pelo general farrapo David Canabarro nas vésperas de serem atacados pelo exército legalista, o que gerou um imbróglio insolúvel para a historiografia mais tradicional e um grande incômodo aos adeptos do mito da Revolução Farroupilha liberal e libertária.
Nos anos seguintes à guerra, os discursos públicos a seu respeito quase desapareceram. Esse relativo esquecimento, na verdade um silêncio programático, era necessário para a acomodação dos diferentes interesses em jogo e a pacificação da região fronteiriça, cujas forças militares seriam logo mobilizadas em eventos do outro lado do rio Uruguai, como a guerra contra o caudilho argentino Juan Manuel de Rosas, em 1851, e o grande conflito contra o Paraguai de Solano Lopes, de 1864 a 1870. Nos poucos retratos da Farroupilha, geralmente ficcionais, como os romances de Antônio Vale Caldre e Fião publicados no Rio de Janeiro, pesava uma visão negativa sobre o fato, considerado uma anomalia separatista devidamente ultrapassada.
Foi justamente depois da Guerra do Paraguai, no bojo do novo movimento republicano e das lutas abolicionistas, que a Farroupilha pôde ser retomada no debate público. Seu resgate foi realizado por políticos-historiadores, estudantes rio-grandenses da Faculdade de Direito de São Paulo, vinculados ao Clube Vinte de Setembro (data de eclosão da revolta). Coube a Alcides Lima, em sua História Popular do Rio Grande do Sul (1882), apresentar as causas da sedição na gênese da sociedade regional, e a Assis Brasil, em sua História da República Rio-Grandense (1882), construir um relato heroico do próprio episódio, que passa, a partir de então, a se confundir com a história do movimento republicano no país.
Histórias esquecidas, memórias silenciadas
Por certo, outros eventos históricos poderiam ter sido elencados à condição de mito fundador do Rio Grande contemporâneo. A Guerra Guaranítica (1753-1756), por exemplo, conflito que opôs as forças unificadas das coroas portuguesa e espanhola aos sete povos das missões jesuíticas orientais (ao leste do rio Uruguai), para fazer valer o Tratado de Madri (1750), poderia ser lembrada, nesse sentido, pela definição do território e pela formação étnica da população na fronteira Sul. Sendo trocados pela Colônia do Santíssimo Sacramento, espaço português situado entre Buenos Aires e Montevidéu, esses assentamentos indígenas católicos, originalmente espanhóis, garantiram a continuidade territorial da América Portuguesa no continente, mas também o povoamento da última província luso-brasileira a se formar no período colonial: mulheres, idosos e crianças sobreviventes da guerra foram alocados nas novas vilas portuguesas.
De suma importância para a configuração do Rio Grande do Sul, é possível argumentar que a Guaranítica demonstrou resistência à integração ao Brasil, quando foi necessariamente, em grande parte, uma luta para não deixar compulsoriamente as terras e as cidades construídas em décadas de trabalho. De qualquer maneira, a história da escrita da história, em seu período pré-universitário, revela outra motivação: por certo tempo houve a necessidade de afirmar a branquitude da população sul-rio-grandense, quando o debate racial brasileiro jogava na miscigenação a culpa pelo atraso nacional. A história indígena, apesar de idealizada anteriormente pelo movimento romântico, também trazia, nesse caso, a inconveniente relação do estado com o universo castelhano no Cone Sul, em momentos de ufanismo nacionalista que agitavam a nova República.
Silvio Romero, por exemplo, grande crítico e historiador da literatura, atuante no Rio de Janeiro, atacava os adeptos do ditador Júlio de Castilhos e de sua versão do pensamento de Augusto Comte, como “almas semibárbaras de egressos do regime pastoril” ou “incultos gaúchos”, visão comum no restante do país. Desde o Império, as repúblicas platinas eram atacadas no Brasil, representadas como espaço da barbárie, enquanto a Monarquia se erigia em braço da civilização europeia na América. Tais estereótipos eram recuperados nas novas disputas entre as oligarquias sul-rio-grandenses e o poder central. Ideologicamente, era importante celebrar uma visão modernizante e racialmente higienizada do Estado, junto à afirmação da brasilidade do Rio Grande do Sul. O esquecimento da Guaranítica, portanto, também era uma negação de seu passado rio-platense e, como veremos, gauchesco.
A legenda negativa do gaúcho
Os habitantes da região nem sempre foram chamados de gaúchos, muito menos se reconheceram, na maior parte de sua história, como gaúchos. Desde a posse do território pela coroa portuguesa, no século XVIII, até, pelo menos, a década de 1930, o adjetivo pátrio consagrado para o Rio Grande do Sul era sul-rio-grandense. Em termos geográficos e culturais, a região “gaúcha” do Brasil (entendida aqui como culturalmente tributária da economia pecuarista tradicional na Bacia do Rio da Prata) nunca foi equivalente a todo o território da província. Era, na verdade, restrita à sua área fronteiriça, ao bioma de savana popularmente conhecido como pampa, compartilhado com o Uruguai e o norte da Argentina.
Durante todo o Império, além de espaço de conflito permanente, essa era a região economicamente mais dinâmica do Rio Grande, de onde também saíam seus principais representantes políticos e líderes militares. Logo, entende-se porque era simbolicamente dominante, quer dizer, qual a razão de se confundir no imaginário nacional com todo espaço sul-rio-grandense, muito mais variado geográfica e socialmente. Em sua metade norte, por exemplo, além de paisagens diversas de serras e florestas, o Estado passou a abrigar, já no século XIX, imigrantes europeus em regime de colonato, com pequena propriedade privada, voltada para a economia de subsistência. Ainda assim, a possível identificação da elite pecuarista com o mundo gauchesco platino não era suficiente para enfrentar a suspeita negativa que pesava sob o tipo social e histórico do gaúcho, mesmo internamente.
Mas, afinal, o que era o gaúcho? O termo aparece em textos castelhanos já no século XVIII para designar grupos de homens de nacionalidade indefinida, mestiços de indígenas, negros, portugueses e espanhóis, que falavam um dialeto característico, produto desse encontro cultural. Eles se dedicavam à caça do gado selvagem que se reproduziu livremente nos campos sulinos, depois de sua introdução pelos primeiros jesuítas missioneiros. Logo, eram homens sem paradeiro e sem trabalho fixo, que também transitavam pela pampa ao sabor de seus interesses pessoais. Quando os limites políticos da região platina foram finalmente definidos, no século seguinte, suas atividades de produção de gado bovino necessariamente incidiram em contrabando e, ao longo do tempo, eles acabaram se envolvendo em mais delitos típicos de fronteira, encorpando as hostes de caudilhos castelhanos e luso-brasileiros. Mais do que isso, o uso social do termo passou a ser reservado apenas aos elementos populares dessa vida tradicional – classe trabalhadora, grupos marginalizados, culturas iletradas ou semiletradas etc –, em vias de extinção pelo avanço dos Estados nacionais e pelos cercamentos dos grandes latifúndios privados. O gaúcho e sua companheira, localmente chamada de “china”, eram a ralé do mundo rural no extremo Sul.
Não surpreende que, apesar de alguns esforços intelectuais de assimilação e celebração desse universo, durante as lutas de independência na América, como a primeira poesia gauchesca de Bartolomé Hidalgo, recaísse sobre esse tipo social a legenda de bárbaro ou incivilizado. Foi, aliás, exatamente nesses termos que Domingo Faustino Sarmiento classificou a luta entre a cidade e o campo, em sua clássica biografia de um caudilho argentino: Facundo, Ou civilização e barbárie (1845). Esse texto alimentou a fio o imaginário americano sobre a pampa por décadas, sendo parcialmente retomado no Brasil pelo romance O gaúcho (1870), de José de Alencar, na caracterização ambígua de seu protagonista, o que gerou protestos de letrados sul-rio-grandenses.
Apesar dos diversos conflitos em que se envolveu, a província construiu instituições literárias e de alta cultura já na segunda metade do século XIX, como a Sociedade Partenon (1868) e seu primeiro Instituto Histórico (1860-1863). Praticamente da mesma geração republicana e abolicionista de Alcides Lima e Assis Brasil, os homens e as mulheres que constituíam tais associações e que publicavam na imprensa periódica de Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande, principalmente, começaram a concretizar o projeto romântico da definição de uma cultura popular representativa para o Rio Grande, escolhendo o campeiro fronteiriço como seu sujeito folclórico, seguindo modelos de idealização do rural presentes no romantismo internacional. Note-se, no entanto, como efeito do estigma social do gaúcho, que a adoção desse termo era bastante rara na produção poética e ficcional dos intelectuais locais. Apolinário Porto Alegre, principal escritor do Partenon Literário, produziu, como resposta a Alencar, um romance em folhetim chamado O vaqueano (1872) (profissão de quem conduzia viajantes pelo interior da província), contornando a palavra polêmica.
Com o avanço dos cercamentos de terra e da organização capitalista do latifúndio de pecuária, o gaúcho foi paulatinamente recrutado como mão de obra assalariada. No final do século XIX, a palavra gaúcho se confundia, finalmente, com uma série de categorias de profissionais do campo, como o “peão” das estâncias ou das fazendas de criação, que herdara as práticas de trato e abate do gado, assim como seu habitus característico (linguagem, visão de mundo, vestimentas e outros códigos culturais). Esse fenômeno, paralelo à implementação da República, levou o governo positivista do Rio Grande a encampar o primeiro gauchismo cívico, quando o Grêmio Gaúcho de Porto Alegre (1898) foi fundado pelo major João Cezimbra Jacques. No ano seguinte, a elite charqueadora de Pelotas criaria sua União Gaúcha, seguida por entidades semelhantes em cidades importantes da zona fronteiriça. A visão higienizada do mundo gauchesco oferecida por essas associações urbanas fazia coro ao projeto de domesticação do popular e de modernização conservadora levado a cabo pela ditadura de Castilhos, que incluía a criação de um robusto aparato de violência (com a Brigada Militar fazendo o patrulhamento da fronteira, além do policiamento interno) e a expansão do sistema de ensino para disciplinar e incorporar as classes trabalhadoras.
A criação do Rio Grande heroico
As fontes existentes a respeito, no entanto, fazem acreditar que o PRR abandonou o gauchismo no decorrer da década de 1900. Se no Monumento a Júlio de Castilhos (1910), construído em homenagem ao patrono do republicanismo positivista sul-rio-grandense falecido em 1903, ainda é possível ver um gaúcho anônimo em cena de montaria, no debate público informado pelo discurso oficial já não havia mais lugar para esse tipo social. Na verdade, ao gaúcho era reservado o mesmo espaço de memória: um passado gravado em pedra, mas como ruína!
Essa estratégia de negação era resposta direta à persistência do estigma de barbárie do Rio Grande no cenário nacional. Para superar a imagem de atraso, toda uma intelectualidade mais orgânica foi mobilizada para fazer o luto do universo gauchesco, teoricamente morto pelos processos de modernização e de urbanização. Alcides Maya, já membro da Academia Brasileira de Letras, espécie de intelectual autorizado que atuava na imprensa carioca – e recentemente convertido ao PRR –, lançava seu romance Ruínas Vivas (1910). Nele, era retratada a decadência da vida tradicional na campanha sul-rio-grandense. No mesmo ano em que o escritor pelotense João Simões Lopes Neto publicou seus Contos Gauchescos (1912), seu conterrâneo Arthur Toscano, cooptado para a burocracia perrepista de Porto Alegre, perguntava no Almanaque Literário e Estatístico: “Por que cargas d’água chamam ao nosso Estado terra gaúcha, aos rio-grandenses – gaúchos?”.
Internamente, a negação também tinha função política. À medida que o projeto republicano avançava, sua oposição, organizada no Partido Republicano Federalista (PRF) – cuja base social era oriunda principalmente da fazenda de criação fronteiriça – era combatida pela força e pelo verbo. Com ligações, inclusive familiares, com o norte do Uruguai, essa facção da elite recebia publicamente a pecha de gaúcho, em moldes semelhantes aos ataques anteriores vindos do centro do país. A pacificação da vida política local na década de 1910, então reforçada pelo crescimento econômico e pelos interesses relativamente unificados da classe produtora, levava a crer que as disputas cavaleirescas ficaram num passado longínquo.
Em 1923, no entanto, outra mudança de cenário na economia e a reação à perpetuação do cacique Borges de Medeiros no poder – em mais uma eleição fraudada – levou ao fortalecimento da oposição federalista, em aliança com dissidências republicanas liberais, culminando em mais uma revolta armada contra o governo. A saída, no ano seguinte, foi conciliatória, e desembocou mais tarde na formação da Frente Única Gaúcha (FUG) em apoio uníssono à candidatura de Getúlio Vargas à presidência do Brasil.
Foi assim que, a partir de 1924, houve novos esforços de definição ideológica do gaúcho e do gauchismo. No plano local, a parcela federalista da elite econômica, até então subrepresentada também no plano simbólico, exigia concessões no discurso oficial. No plano nacional, a permanência do estigma levava à necessidade de sua ressignificação. Foi o tempo da criação do Rio Grande heroico. À pecha de atraso e às suspeitas de separatismo/platinismo, o mito do gaúcho rio-grandense ordeiro serviu como antídoto. Todas as características negativas ligadas à legenda de gaucho malo foram, então, reservadas a seus congêneres uruguaios e argentinos. Na História da Literatura do Rio Grande do Sul (1924), por exemplo, o escritor republicano João Pinto da Silva (mais tarde assessor de Getúlio Vargas), condenava o quixotismo do gaúcho platino, asseverando, em contrapartida, que seu par brasileiro, o “nosso gaúcho”, era “conservador, amigo da ordem, temente às leis”.
Se já não era possível negar a gauchidade do Rio Grande, era necessário abrasileirá-la. Para além disso, também era importante elitizá-la. Aqui entra o mito da Farroupilha. A memória da elite militar-estancieira farrapa, que historicamente não se identificava com os grupos populares chamados de gaúchos, servia não apenas para o apoio à brasilidade local – já que o fim do conflito podia ser interpretado como opção do Rio Grande em fazer parte do Brasil, logo, seria até mais brasileiro que os demais entes de Federação –, como também para neutralizar o debate racial recente no país. Confundido com o farrapo, o gaúcho rio-grandense seria descendente de portugueses, portanto: branco. Daí o seu apreço pela ordem. Esse Rio Grande heroico foi preparado para contornar todos os preconceitos de época, ainda que os legitimassem e os reforçassem. Finalmente, havia um artefato ideológico adequado ao projeto sulino de modernização autoritária. Em 1929, o poderoso magnata das comunicações Assis Chateaubriand saudaria a candidatura Vargas à presidência recorrendo a uma nova imagem positiva do gaúcho: “Ele [Getúlio] é o símbolo da própria alma cavalheiresca, sonhadora do homem a quem a vida autônoma da pampa esmaltou das virtudes do soldado e do santo”.
Portanto, enquanto o mito da Farroupilha fornecia as bases para uma gauchidade conservadora, a vitória da identidade gaúcha do Rio Grande do Sul oferecia palco para a memória da elite pecuarista branca.
O tradicionalismo gaúcho
Contraditoriamente, o projeto centralizador de Getúlio Vargas levaria à repressão de discursos localistas, junto ao patrulhamento das oligarquias regionais. Na década de 1930, apesar das comemorações do Centenário Farroupilha, houve menos espaço para o regionalismo gaúcho. Autores como Cyro Martins, conhecido pela sua “trilogia do Gaúcho a pé”, nos livros em que denunciava o empobrecimento dos trabalhadores rurais, o êxodo para as cidades e a formação das periferias urbanas com campesinos marginalizados, tinham de buscar editoras de fora do Rio Grande para publicar suas obras.
Tudo isso muda, mais uma vez, com o fim do Estado Novo (1945) e o nacionalismo pós-Segunda Guerra, permeados de narrativas sertanistas e de movimentos folcloristas. Em 1949, dois fatos literários marcam o fenômeno em escala regional: a edição crítica de Contos Gauchescos e Lendas do Sul, de Simões Lopes Neto, e o lançamento do primeiro volume do grande romance de Erico Verissimo, O tempo e o vento, dedicado à formação do Rio Grande; ambos pela mesma Editora Globo (a segunda maior do país na época) que evitava títulos regionalistas no decênio anterior.
Esse é o caldo de cultura que permite o surgimento, em 1947, de um novo gauchismo cívico, que avançou na produção de ritos e espaços de sociabilidade em relação às práticas do clube republicano de Cezimbra Jacques, com o modelo do Centro de Tradições Gaúchas (CTGs). Poucos anos depois, ele ganharia o nome de tradicionalismo gaúcho. Seus dois maiores líderes, João Carlos Paixão Côrtes (que seria o modelo para a estátua do Laçador, situada atualmente numa das principais vias de entrada de Porto Alegre) e Luiz Carlos Barbosa Lessa, passaram anos investigando a produção letrada local, que usariam para a atualização do mito do gaúcho farrapo. Isso explica o conservadorismo dominante no movimento tradicionalista, com a afirmação de um sujeito folk militarizado, branco e avesso à diversidade étnica e de gênero, apesar da literatura de ficção e do projeto individual de Barbosa Lessa oferecer espaço para vozes marginalizadas no processo de pacificação e modernização da fronteira Sul, como o indígena, o negro e a mulher.
Com a ditadura de 1964, parcela do movimento foi cooptada, fornecendo quadros para instituições estaduais de cultura, folclore e patrimônio. No dorso, as versões mais conservadoras de gauchismo dominaram o tradicionalismo, que reivindicava o papel de vigilância das fronteiras simbólicas, numa versão, a exemplo do antecedente republicano, extremamente nacionalista. É por isso que, nos anos 1970 e 1980, o movimento bania dos palcos dos CTGs ritmos musicais considerados platinos, apesar de gauchescos, como o chamamé (que acabou vencendo a resistência dos líderes tradicionalistas poucos anos mais tarde).
A revolução que não houve, as memórias que permanecem
Acredito que, em função da vitória do gauchismo cetegista de inspiração republicana, deu-se, no imaginário nacional e regional, a definitiva confusão entre o Rio Grande do Sul e a região gaúcha do Brasil, a fronteira pampiana, num modelo de identidade suficientemente coeso para apagar as diferenças internas – geográficas, políticas e sociais – do Estado. Nesse sentido, não é absurdo atribuir também ao tradicionalismo a aceitação final do termo gaúcho como adjetivo pátrio para o Rio Grande, em substituição, principalmente a partir dos anos 1950, do histórico gentílico sul-rio-grandense.
Um dos principais ritos periódicos do cetegismo é justamente a Semana Farroupilha, que teve início com a primeira Ronda Crioula (1947), sacramentada no calendário oficial do Estado a partir de 1964, na qual, durante sete dias de atividades festivas, celebra-se os heróis farrapos e sua “saga”, antecedendo o 20 de setembro, com todo um universo gauchesco revivido nas cidades, com homens e mulheres trajados “à gaúcha” para lembrar um passado imaginado.
É verdade que, hoje em dia, antigas oposições ideológicas como platino x brasileiro já não fazem sentido no debate público local. Mas, sem sombra de dúvidas, a ideia de Rio Grande gaúcho se encontra consolidada. Talvez por isso mesmo ela possa ser apropriada por matizes políticos mais variados, como na identidade visual do ex-governador petista Olívio Dutra ou na definição de gauchidades negras e feministas (a exemplo da apresentadora do programa musical regionalista Galpão Crioulo, da RBS TV, Shana Müller, que vem defendendo o protagonismo feminino nos espaços tradicionalistas com uma visão menos objetificada da mulher gaúcha). Variações do mito do gaúcho começam, assim, a disputar a memória regional. Também o mito da Farroupilha, que segue um marcador identitário forte e para um público cada vez mais amplo, é contraposto a novas narrativas sobre esse passado originário – provável função da renovação científica da historiografia profissional universitária das últimas três décadas. Uma história que ainda se encontra em aberto.